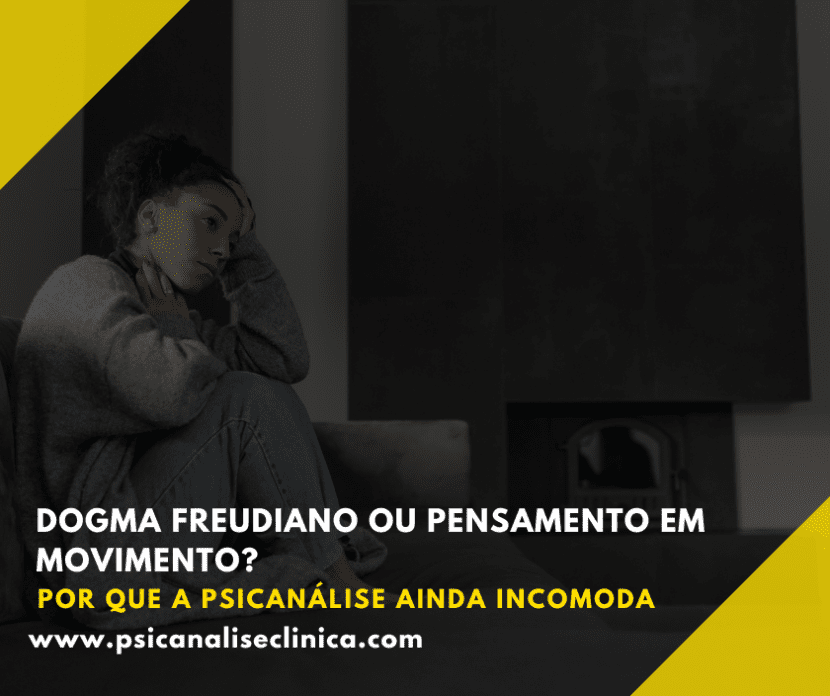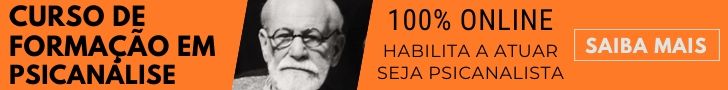Neste artigo, exploramos como o dogma freudiano se mantém ativo no pensamento psicanalítico atual — ora como fundamento clínico, ora como obstáculo à renovação. A partir de uma crítica contundente, o texto questiona as zonas de estagnação da psicanálise e propõe uma retomada ética, crítica e dialógica de seus conceitos.
Psicanálise em movimento (ou estagnação?): entre a crítica científica e o dogma freudiano
A psicanálise incomoda. Incomoda porque resiste a ser reduzida a números, protocolos ou testes padronizados. Incomoda também porque, em certos círculos, parece se orgulhar dessa resistência — mesmo quando ela já deixou de ser crítica e passou a ser inércia.
Crise de legitimidade e os dilemas contemporâneos
Nas últimas décadas, não foram poucos os que decretaram sua morte.
Classificada como pseudociência por setores do pensamento científico contemporâneo, desconsiderada nos currículos das faculdades de Psicologia mais alinhadas à lógica comportamental ou neurobiológica, e cada vez mais ausente do debate público, a psicanálise tem enfrentado uma crise de legitimidade — tanto externa quanto interna.
Externamente, enfrenta o ceticismo dos que exigem evidências empíricas, eficácia estatística e resultados mensuráveis. Internamente, lida com um outro tipo de ameaça: o fechamento dogmático de parte de seus próprios praticantes.
Muitos ainda tratam os textos freudianos como escritura sagrada, defendendo teorias ultrapassadas como se proteger conceitos antigos fosse, por si só, preservar a tradição.
Dogma freudiano e resistência ao novo
Mas a psicanálise não nasceu como tradição. Nasceu como ruptura. Como provocação. Como método de escuta e pensamento que desafiava o saber médico, as moralidades burguesas e a ideia de um sujeito racional e transparente a si mesmo.
Se hoje ela parece hesitar diante da crítica — seja ela científica, cultural ou política —, talvez o problema não esteja em seus fundamentos, mas na forma como muitos de seus representantes os sustentam.
Este ensaio não pretende defender a psicanálise a qualquer custo. Pretende defendê-la, sim — mas contra os dois riscos que a ameaçam: o cientificismo apressado que a desqualifica sem compreendê-la, e o conservadorismo interno que a fossiliza sob o peso do próprio passado.
Fundamentos clínicos da psicanálise freudiana
Para compreender o lugar da psicanálise no cenário contemporâneo, é preciso retornar às suas origens — não para reverenciar Freud como um fundador intocável, mas para entender o que havia de subversivo em sua proposta.
Freud não inaugurou apenas uma nova teoria sobre o funcionamento da mente; inaugurou uma nova maneira de escutar.
Ao dar voz aos sintomas, aos sonhos, aos lapsos e às associações aparentemente sem sentido, ele rompeu com a ideia de que a verdade do sujeito poderia ser alcançada apenas pela observação objetiva ou pela racionalização consciente. A psicanálise surge, portanto, como uma crítica à razão triunfante da modernidade — e não como mais um de seus desdobramentos.
Dogma freudiano versus atualização conceitual
Três conceitos formam a espinha dorsal da psicanálise freudiana: o inconsciente, a repressão e a transferência. Eles não são apenas definições técnicas, mas proposições filosóficas, clínicas e culturais sobre o sujeito moderno.
O inconsciente, para Freud, não é um depósito de conteúdos esquecidos, mas um sistema ativo, com lógica própria, que se manifesta nas formações de compromisso: sonhos, sintomas, atos falhos, fantasias. Sua existência não é inferida por exames laboratoriais, mas revelada na fala — e, mais precisamente, nos desvios da fala.
A repressão é o mecanismo fundador do inconsciente: certos conteúdos, considerados inaceitáveis pela consciência, são recalcados — e retornam, disfarçados, como sintomas. Essa lógica de exclusão e retorno se estende para além da clínica e oferece uma chave de leitura potente para a cultura: aquilo que uma sociedade reprime tende a reaparecer sob outras formas, muitas vezes mais destrutivas.
Ferramentas clínicas que permanecem relevantes
A transferência, por sua vez, mostra que não existe neutralidade na relação clínica. O paciente transfere para o analista sentimentos e fantasias inconscientes ligados a figuras do passado — e essa repetição é, ao mesmo tempo, obstáculo e via de acesso ao inconsciente.
QUERO INFORMAÇÕES PARA ME INSCREVER NA FORMAÇÃO EM PSICANÁLISEErro: Formulário de contato não encontrado.
Ao contrário do modelo médico tradicional, em que o terapeuta é um especialista que aplica técnicas sobre um paciente passivo, na psicanálise a cura passa pelo próprio laço transferencial.
Freud acrescentaria, mais tarde, outras estruturas ao modelo da mente — o id, o ego e o superego — tentando sistematizar suas observações clínicas e responder às críticas da época. Também construiria um modelo de desenvolvimento psicossexual baseado na centralidade da sexualidade infantil e no complexo de Édipo como núcleo organizador da subjetividade.
Transferência psicanalítica e a escuta como experiência
É justamente nesse ponto que começam os impasses. Muitos dos conceitos fundamentais da psicanálise continuam fecundos. Mas outros, sobretudo aqueles mais fortemente marcados por contextos históricos, sociais e culturais do início do século XX, já não resistem ao crivo ético, clínico e epistemológico contemporâneo.
Reconhecer isso não enfraquece a psicanálise. Pelo contrário: é o que pode permitir que ela permaneça viva, crítica e relevante.
Limites históricos e revisão crítica
Apesar das críticas — muitas delas legítimas —, alguns pilares da psicanálise freudiana não apenas resistiram ao tempo, como foram ampliados, refinados e incorporados a outras tradições clínicas e teóricas. Eles permanecem não por fidelidade ao autor, mas porque continuam oferecendo ferramentas valiosas para pensar o sujeito, a escuta e a clínica.
O que envelhece na teoria freudiana
O inconsciente, por exemplo, permanece como uma hipótese relevante, mesmo fora dos círculos psicanalíticos. Embora as neurociências e a psicologia cognitiva tenham desenvolvido outras formas de pensar os processos mentais inconscientes — mais voltadas à automatização e à memória implícita do que ao desejo ou ao recalque —, a ideia de que grande parte da vida psíquica se dá fora da consciência tornou-se praticamente consensual.
A versão freudiana do inconsciente, marcada pela linguagem, pelo conflito e pela historicidade, talvez não seja verificável por exames de imagem, mas ainda é insubstituível para a escuta de certos sofrimentos subjetivos.
O mesmo vale para os mecanismos de defesa. Inicialmente descritos por Freud e sistematizados por Anna Freud, foram posteriormente estudados e validados empiricamente por autores como George Vaillant.
Eles se tornaram ponto de convergência entre diversas abordagens, inclusive fora da psicanálise, como em algumas formas de terapia cognitivo-comportamental de terceira onda. A ideia de que o psiquismo desenvolve estratégias automáticas para lidar com conflitos emocionais permanece não só útil, mas clinicamente operacionalizável.
Dogma freudiano e gênero: críticas ao modelo de feminilidade
A transferência — talvez o conceito mais singular da psicanálise — também foi profundamente revisitada e ampliada. Se Freud inicialmente via nela uma resistência, um obstáculo ao tratamento, foi a própria prática clínica que revelou seu potencial terapêutico.
A partir de Melanie Klein, Winnicott, Lacan e, mais recentemente, das teorias intersubjetivas e da psicologia relacional, a transferência passou a ser vista como o núcleo dinâmico da experiência analítica.
Ela não é apenas a repetição do passado no presente; é o espaço onde o sujeito pode, pela primeira vez, experimentar relações sob outro regime de escuta e simbolização.
Outro avanço importante diz respeito ao papel do analista. Se no início a neutralidade era idealizada como condição para a interpretação, hoje se reconhece que a presença subjetiva do analista é inevitável — e, quando reconhecida e trabalhada, pode se tornar parte ativa do processo terapêutico.
A noção de contratransferência, antes tratada como um problema técnico, é hoje compreendida como uma via legítima de acesso ao campo inconsciente compartilhado entre analista e analisando.
Diagnósticos obsoletos frente às novas patologias
Por fim, permanece viva — e talvez mais necessária do que nunca — a crítica da racionalidade e da moralidade normativas que atravessa a psicanálise desde seu início.
Em um mundo marcado pela aceleração, pela produtividade compulsiva e pela medicalização generalizada do sofrimento, a psicanálise ainda representa uma forma rara de resistência: ela aposta no tempo, na escuta, na singularidade e na complexidade subjetiva. Em vez de oferecer soluções rápidas, propõe perguntas difíceis. Em vez de corrigir o sintoma, tenta compreendê-lo.
Esse lugar da psicanálise — como crítica, como escuta, como experiência ética — não envelheceu. O que envelhece, e às vezes apodrece, é a forma como ela se recusa a pensar a si mesma.
Ciência e escuta: entre evidência e subjetividade
Se alguns conceitos freudianos continuam oferecendo instrumentos valiosos para pensar a clínica e a cultura, outros se tornaram obsoletos — não apenas por limitações teóricas, mas porque expressam visões de mundo que hoje já não se sustentam eticamente, culturalmente ou epistemologicamente.
O exemplo mais evidente é o complexo de Édipo. Considerado por Freud o “núcleo da neurose” e eixo estruturante da subjetividade, o Édipo freudiano pressupõe uma configuração familiar heteronormativa, patriarcal e nuclear: pai, mãe, filho — em papéis rigidamente definidos.
Essa estrutura, tratada por muitos psicanalistas como universal, já era limitada no início do século XX e se tornou ainda mais inadequada à diversidade das configurações familiares e identitárias contemporâneas.
O isolamento epistemológico da psicanálise
Outro ponto problemático é a centralidade da sexualidade infantil como chave explicativa quase exclusiva para o desenvolvimento psíquico. A provocação freudiana — afirmar que a criança é um sujeito sexuado — foi, à época, revolucionária. Mas o desenvolvimento posterior da psicanálise mostrou que a sexualidade é apenas uma das muitas dimensões que estruturam o psiquismo.
A teoria do apego, os estudos sobre intersubjetividade precoce, as contribuições da psicologia do desenvolvimento e das neurociências afetivas trouxeram outras variáveis relevantes: afeto, regulação emocional, presença do outro, experiência do cuidado. Reduzir tudo à pulsão e à genitalidade é negligenciar a complexidade da vida psíquica.
Psicanálise em risco: entre diluição e paralisia
A própria teoria das pulsões também perdeu grande parte de sua potência explicativa.
A oposição entre pulsão de vida e pulsão de morte, central na segunda tópica freudiana, tem valor simbólico e filosófico, mas carece de respaldo empírico e é de difícil operacionalização clínica. Muitos autores contemporâneos optaram por abandonar essa dicotomia, ou reinterpretá-la em outros termos — como forças de ligação e desligamento, ou como metáforas para tensões psíquicas internas.
Outro campo que exige revisão urgente é a concepção freudiana da feminilidade. A ideia de que a mulher se define pela “falta” — de pênis, de potência, de completude — é não apenas datada, mas ofensiva.
A noção de inveja do pênis como traço estruturante do feminino, defendida por Freud e mantida por muitos de seus seguidores, foi duramente criticada por pensadoras como Karen Horney, Simone de Beauvoir, Julia Kristeva, Luce Irigaray e Judith Butler.
Conclusão – O movimento necessário da psicanálise
A psicanálise, ao insistir nesse modelo, acabou por reforçar estruturas de gênero hierárquicas, mesmo quando se dizia crítica da normatividade. Por fim, há o modelo clínico centrado nas estruturas neuróticas clássicas — histeria, neurose obsessiva, fobia — que ignora a complexidade diagnóstica contemporânea. As chamadas “novas patologias” (como os estados-limite, os quadros borderline, os sofrimentos difusos de identidade) escapam das classificações freudianas tradicionais.
Autores como André Green, Christopher Bollas e Jean Bergeret tentaram ampliar o modelo clínico para abarcar essas novas formas de sofrimento, mas muitos psicanalistas seguem operando como se estivessem ainda no consultório vienense do século XIX.
Rever esses pontos não significa trair a psicanálise. Significa lembrar que a psicanálise, quando surgiu, era ela própria uma crítica. Se hoje ela se recusa a criticar a si mesma, talvez esteja traindo não Freud, mas o espírito que o movia.
—
Ângelo Rigon Filho é psicólogo clínico e professor de Direito, com atuação interdisciplinar entre psicologia, psicanálise e ética. Além da prática clínica, desenvolve trabalhos autorais sobre sofrimento psíquico, subjetividade contemporânea e os limites éticos da lógica performativa.
[email protected]